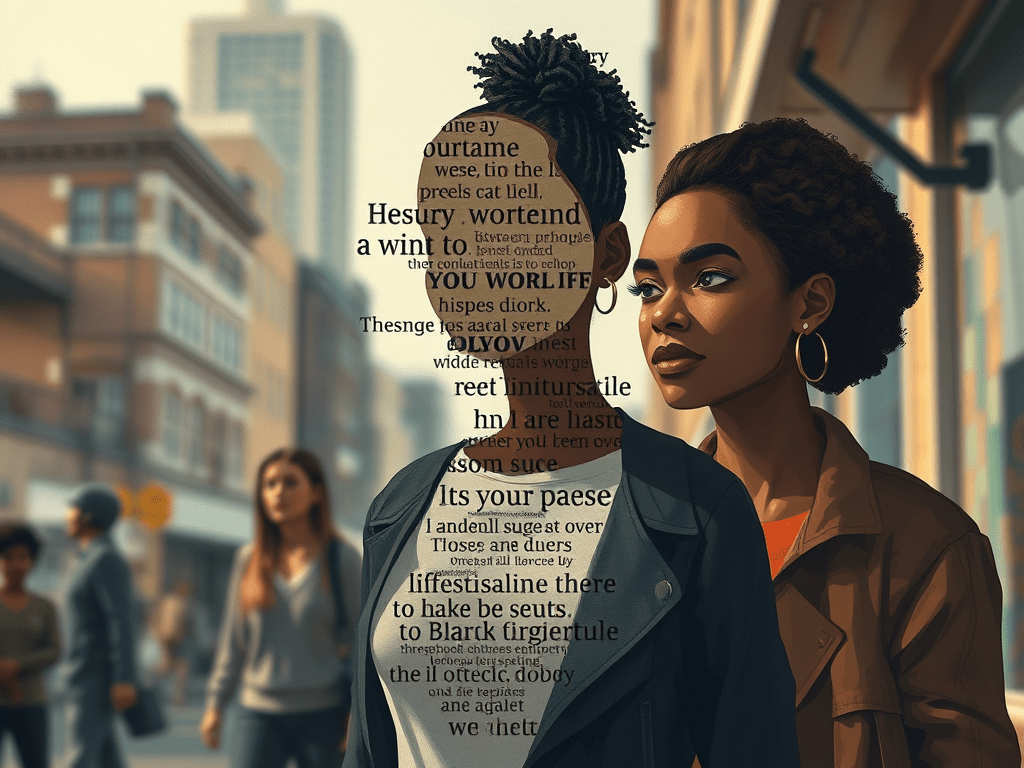-
O amor e a piedade: sentimentos distintos
Há quem diga que o amor é um mistério que atravessa os séculos. Platão via nele a escada que conduz da beleza ao bem, a força que eleva o ser humano à verdade. Santo Agostinho enxergava o amor como o laço invisível que une as criaturas ao divino. Entre o corpo e o espírito, entre o relativo e o…
-
Noite eterna
Se a noite gira ad eternume os homens brilham ao luarpor que se encantar com as luzesse nada podem provar? nao temer as verdades obtusasnem ferver as entranhas nas febrespor certo é viver às escusasda lei maior que entoado povo que vive prenhede um mundo que clama à toa nao temer as verdades obtusasnem ferver…
-
Se o Natal chegar
Se o Natal chegar e eu não estiver preparado? Ele vem de mansinho, se avizinhando em nossos pensamentos, sentimentos e corações. Se o Natal chegar e ainda estiver em dias atribulados, assustado, perdido entre problemas banais nos dias Se o Natal chegar e eu ainda estiver neste impasse, de me encontrar embatucado com mediocridades, falácias,…
-
Espera
Espera, não permitas ao abandono da primavera, nem penses que o amor já foi embora. Lembra: o inverno ainda volta, e a tormenta se transforme na revolta dos descaminhos de nossa vida tão banal Espera, não deixes que me perca em teus braços, que sinta a ternura dos abraços, sem ficar eternamente tão sozinho, sobrevivente…
-
Nuances
Quando os dias passares e já não precisares mais as horas, nem os prazos. Quando as noites, mesmo quentes, forem frias e vazias. Quando o mundo parecer escuro, cinzento e sem graça. Quando as dores humilharem tua identidade e a esperança se expandir lentamente para fora da janela, ao vento, como as cortinas que insistem…
-
Sexo e drogas, sem rock and roll
Se esqueces indigentes em seu próprio quintal e por ele passeias, sem muito entender. Quem sabe, encontras o que te faz mal ou bem e nas grades em que definhas, o teu mundo não se alarga. Nem o deles, os do quintal, nem a quadra, nem o canto, nem o ponto no sinal, nem os…
-
Apontamentos no sótão
Apontamentos no sótão Passei a noite descobrindo coisas novas. Percorri o corredor imenso da casa, subi as escadas e parei no sótão. Como toda peça meio escondida, não passa de um buraco com teias de aranha. Queria achar um livro antigo, de meu pai, um tipo de atlas, mas que tenho certeza, além de mapas,…
-
Margem estreita
Aos poucos, quase uma coisa dormente, de poucos pingos e respingos. Aos poucos, ondas de frio e chuva miúda, mas forte. Aos poucos, transito por entre as poças, a água latente molhando o tênis, o brilho aqui perto, nos pés, o esfumaçado lá longe, na neblina que avisto. Caminho por entre árvores, caminhos tortuosos, obscuros.…
-
Subscrever
Subscrito
Already have a WordPress.com account? Log in now.